Um dos melhores momentos de Dercy Gonçalves no cinema é o filme A grande vedete (1958), que ela protagoniza como Janete, uma atriz que não quer admitir que envelheceu. Seu assistente, Ambrósio (Humberto Catalano), e sua camareira, Fifina (Zezé Macedo), adulam ela e alimentam sua ilusão de ser um símbolo sexual à prova do tempo. Ambrósio, principalmente, enche o camarim de presentes de admiradores falsos e paga uma claque para bater palma bem alto, abafando o som das risadas quando Janete tropeça num degrau.
Aviso de spoilers. Apesar de velha e iludida, Janete não é uma vedete sem talento, muito pelo contrário. Sua jornada no filme consiste em perceber que as limitações corporais da idade (a visão debilitada, a dificuldade em completar certos movimentos, a falta de apelo sexual para o grande público) não têm relação com seu valor como artista. Estrelando a revista Saias curtas, por exemplo, ela é sucesso há vinte anos e continua sendo uma grande estrela, mesmo que tenha que substituir o sapato de salto por uma sapatilha mais confortável. Talvez os homens não desejem Janete, mas o público ama ela.
Plano e contraplano
A velhice de Janete é o grande tema do filme. A maquiagem acentua as rugas e as expressões que Dercy, comediante refinadíssima (afinal, pode-se ser refinada até na baixaria), despeja, uma atrás da outra, no corpo de Janete dentro e fora do palco. O filme aproveita a atriz em inúmeros closes, e nos melhores momentos nós vemos no rosto de Dercy, simultaneamente, camadas superpostas de Janete: a atriz talentosa, a atriz que não está sabendo usar seu talento, a mulher orgulhosa, a mulher frágil e, enfim, a atriz séria sendo interpretada por uma comediante.
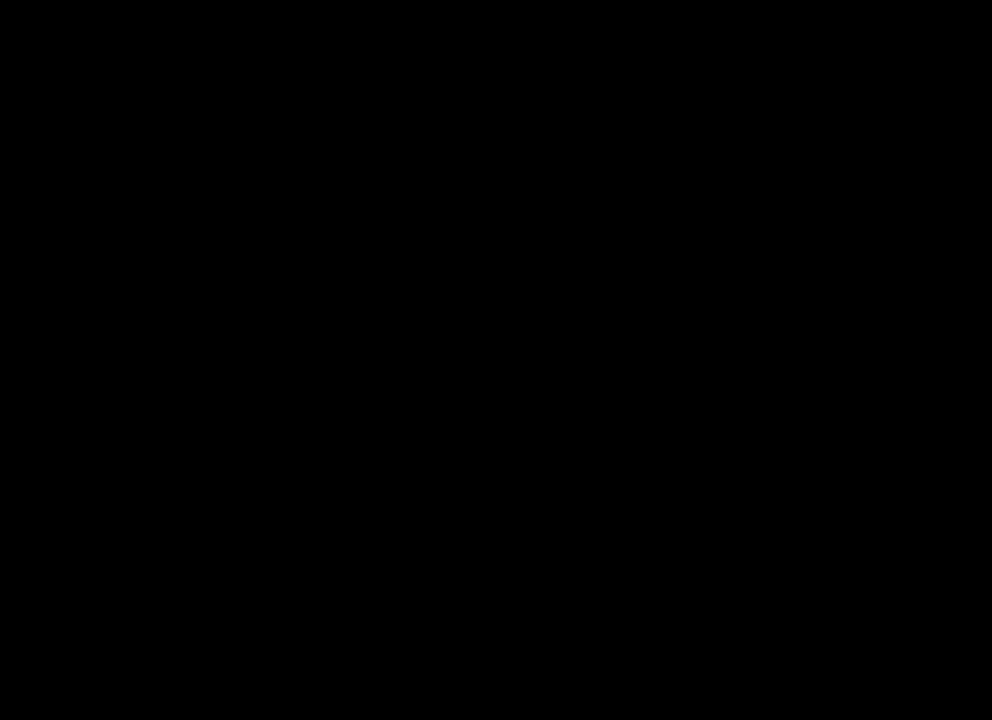
Há momentos, contudo, em que não apenas nós e os outros coadjuvantes e figurantes da história de Janete percebemos a inadequação da velha. É no espelho do camarim que a vedete se encontra com algo que destoa da imagem que tenta projetar e incorporar; então muda o jogo de olhares e Janete, vista por todo mundo, finalmente enxerga a si mesma.
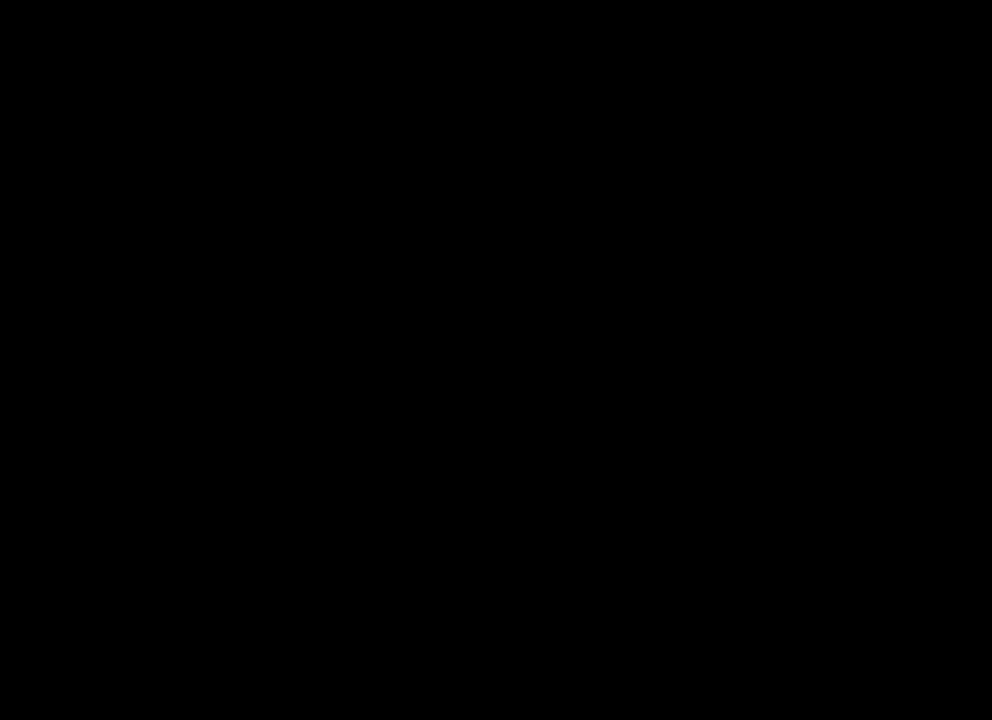

O espelho tem uma presença expressiva nas elaborações artísticas da velhice. Como símbolo tanto da vaidade quanto do autoconhecimento, os autores de comédia o colocam em frente às pessoas velhas (às mulheres, principalmente) para mostrar para nós, o público, a evidente teimosia com que elas se agarram a uma posição social que não condiz com a imagem dos seus corpos. Ou, em chave trágica, para retirar a personagem da ilusão e mergulhar ela na triste, dura e inevitável realidade. No final de A grande vedete, Janete encontra esse espelho trágico.
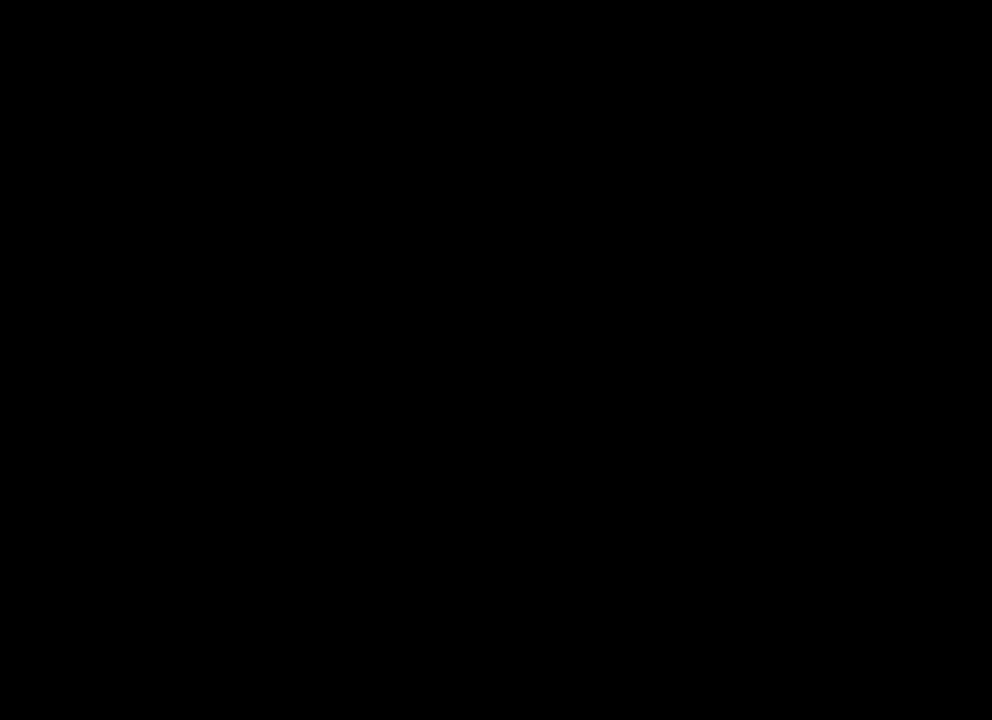
Ela está se arrumando para o último ensaio de seu próximo grande número sensual quando escuta, por acidente, Ambrósio dizendo que tem pena da velha iludida, para quem o palco é a única razão de viver. A revelação de que todos enxergam o que ela acreditava esconder, e de que ela é objeto de pena, não de admiração, faz com que Janete tenha um colapso nervoso seguido de uma compreensão lúcida de que precisa abdicar do papel de protagonista da peça e cedê-lo a uma artista jovem.
A nova peça estreia sem Janete e é um sucesso, com a consagração da jovem bailarina como a nova grande estrela. Mas, depois dos aplausos, em tom de bis, o público grita o nome de Janete. Surpresa, ela vai ao centro do palco, é ovacionada e, a pedidos, apresenta de improviso um de seus maiores sucessos. Descobrimos, enfim, que Ambrósio não precisava ter fingido as flores e contratado a claque. O “grande” do título do filme, que era uma ironia no começo, no final se revela uma coroação.