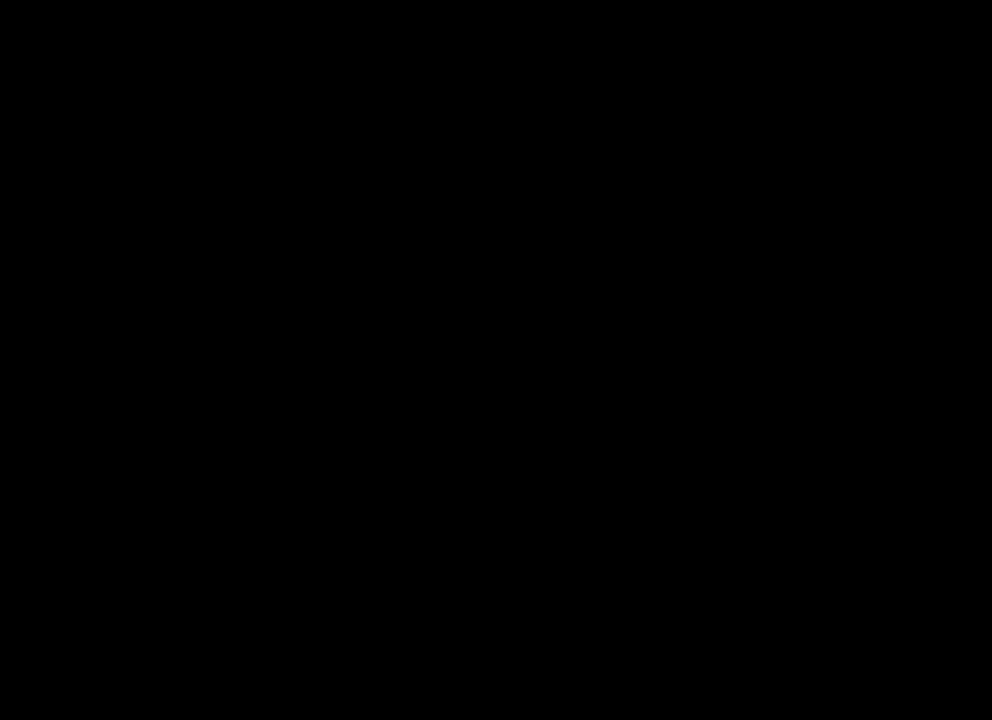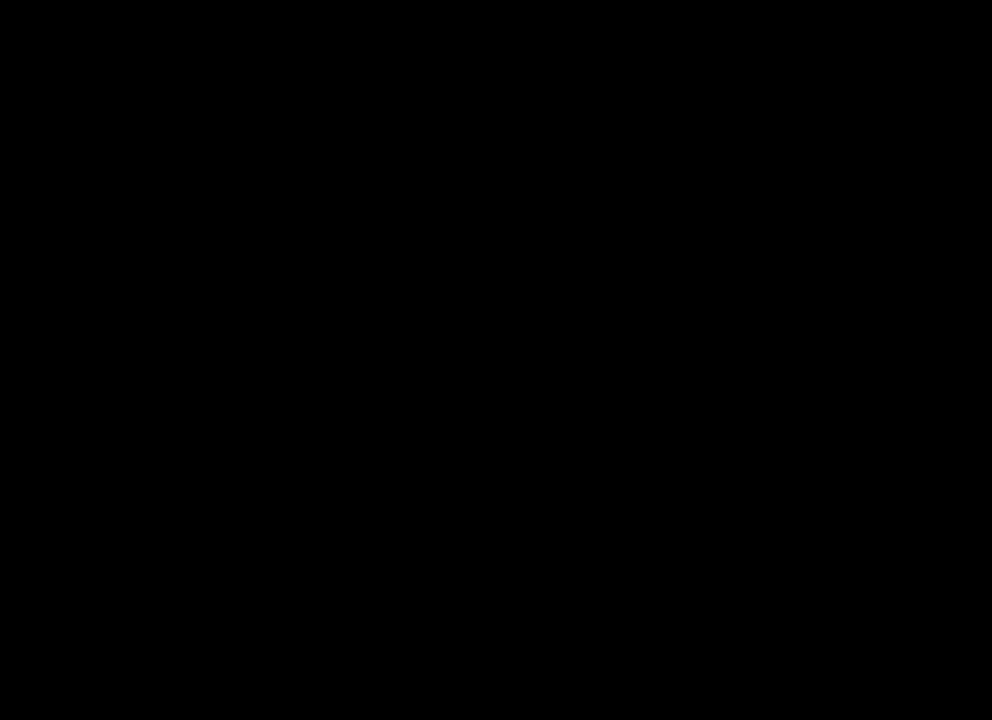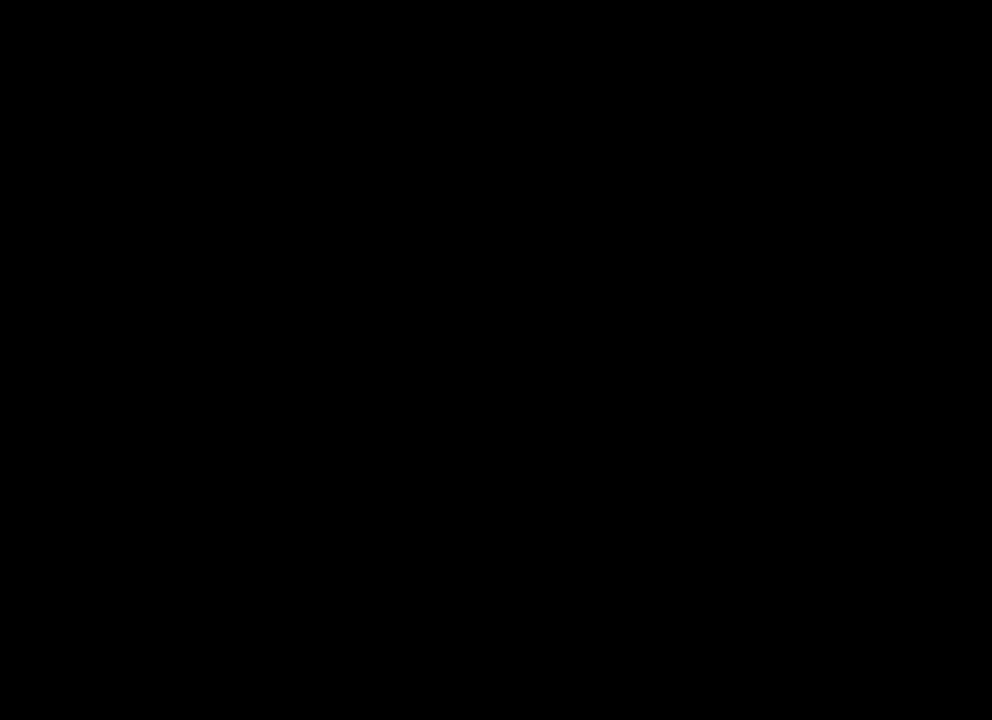A história de Sidarta Gautama é famosa: príncipe riquíssimo, ele vivia dentro dos castelos do pai, cercado e protegido das coisas feias e difíceis do mundo. Um dia, decidiu sair da gaiola dourada para ver o que havia lá fora.
Foram três escapadas na companhia de um subordinado didático. Na primeira, ele se deparou com um homem velho e ficou estupefato. Então aprendeu que as pessoas envelhecem, que o corpo se modifica e fragiliza1 com a passagem do tempo. Na segunda, encontrou um sanatório cheio de doentes, e aprendeu que o corpo humano pode ser acometido a qualquer momento por sofrimentos físicos indizíveis. Na terceira, passou por um cortejo fúnebre. Então aprendeu que todo mundo morre.
Ele decidiu nunca mais voltar ao palácio. Saiu por aí pra conhecer e entender as coisas do mundo. E um dia atingiu a iluminação e se tornou o Buda.
Barbie (2023), de Greta Gerwig, reconta essa história. Não necessariamente na mesma ordem.
O primeiro encontro dilacerante da personagem de Margot Robbie é com a morte, ou melhor, com o pensamento da morte. Assim como no caso de Sidarta, é um incômodo intuitivo que faz com que tudo pareça menos do que o necessário, e impõe-se a necessidade de conhecer algo mais.

O grande encontro com a doença é o colapso da saúde mental, que resulta no anúncio publicitário da Barbie Deprimida (“ansiedade e ataques de pânico são vendidos separadamente”). Não vou escrever sobre isso, mas: se fosse um filme do século 20, talvez Barbie quebrasse uma perna ou pegasse uma gripe. Leitura relacionada: Neoliberalismo como gestão do sofrimento, organizado por Christian Dunker, Nelson da Silva Junior e Vladimir Safatle (ed. Autêntica, 2021).
Já a velhice chega ao conhecimento da Barbie em dois encontros: o segundo é com a Demiurga, quer dizer, a criadora do brinquedo, Ruth Handler, interpretada por Rhea Pearlman, que substituiu seu característico cabelo castanho encaracolado por uma densa cabeleira branca para compor a personagem. Ruth pega Barbie pela mão para acompanhar a boneca no destino que o filme lhe dá e, tal qual uma sábia avó, oferece a ela valorosas lições de vida.
Mas o primeiro desses encontros é mais favorável a um paralelo com a história de Sidarta: sentada num ponto de ônibus, Barbie olha para o lado e vê uma velha sendo apenas velha. De cabelo meio desgrenhado, blusa de frio, tiara brilhante e quase nenhuma maquiagem, ela levanta os olhos do jornal e as duas se encaram. Barbie diz, maravilhada: “Você é tão linda!”; e a velha responde, quase irritada com a obviedade: “Eu sei disso!”.
A personagem é interpretada pela figurinista Ann Roth, de 91 anos. Creditada no IMDB como The Woman on the Bench (A Mulher no Banco), Roth diz que, quando convidada por Gerwig, a diretora disse que ela interpretaria “uma Barbie real do mundo real”.
A cena não faz parte da sequência de acontecimentos de Barbie. Se tivesse sido excluída da versão final, o filme não perderia em intelegibilidade e a história continuaria sendo a mesma. Mas ela é, de algum modo, o resumo de tudo, ou, segundo Greta Gerwig, “o coração do filme”. As duas mulheres sentadas lado a lado se espelham, são variações de um mesmo personagem, mulher, ou ser humano, ou ideia de ser humano. E é talvez aí que a Barbie percebe que quer ser velha.
Ninguém quer envelhecer? Quando o ideal de beleza é transferido da jovem loira para a pessoa velha, o desejo de identificação também é. Querer ser velha é a grande descoberta da boneca. E, se a beleza é o fiel da balança, fica garantido que, assim como no slogan da Mattel, na visão de Greta Gerwig a velha é que é o símbolo de “tudo que você quer ser”.

- Fragiliza? Leia a errata no post “Errata frágil” ↩︎